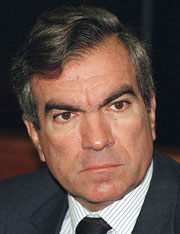|
MIRA AMARAL, ECONOMISTA E
PRESIDENTE DO BANCO BIC PORTUGUÊS
"Temos travessia
no deserto para muitos e bons anos"

Portugal não sairá da crise tão cedo.
Palavra de economista. Luís Mira Amaral afirma que o país desaproveitou
o período de vacas gordas, e de aluno aplicado rapidamente reprovou no
controle da despesa pública. O resto já se sabe. A receita do
ex-ministro é simples e radical: cortes no número de deputados, câmaras
municipais, freguesias e na composição dos governos. Sobre o sector do
ensino diz que a situação é dramática e diagnostica os problemas: sobra
em dinheiro, o que falta em rigor e competência e critica sem piedade as
teorias modernas dos “sinistros” pedagogos do ensino. Mira Amaral
conclui com uma nova pista para debate: as universidades devem reciclar
jovens já formados, reorientando as suas qualificações para suprir
necessidades do mercado laboral.
Lançou recentemente «E depois da crise?». É um livro que perspectiva
o futuro da economia nacional e mundial após serem ultrapassadas as
dificuldades?
É um livro que aponta os cenários possíveis para a saída da actual
crise. Isso significa que o mundo já perspectiva cenários posteriores à
crise, uns mais e outros menos felizes. Acontece que há países melhor
preparados do que outros para superá-la.
E no nosso caso?
De uma forma clara a objectiva, afirmo que Portugal não vai sair da
crise. Porque antes desta tormenta financeira que assolou o mundo, o
país já vivia numa crise estrutural muito séria, desde os tempos do
governo Guterres. Simplesmente a conjuntura tornou mais explícitas todas
as nossas fragilidades estruturais. Eu previ que em 2013 ou 2014
estaríamos na situação actual, mas a nossa impreparação acelerou o
processo. Nós antes da crise já estávamos em péssima forma física, só
que em tempo de vacas gordas não fizemos o trabalho de casa e o
resultado está à vista.
Há dias um jornal especializado questionava: «Afinal quem tramou a
economia portuguesa?». Tem resposta?
Fomos bons alunos para apoiar a boleia da Europa. Quando entrámos na
moeda única, como que nos deslumbrámos, esquecendo-nos que o trabalho
feito anteriormente era para prosseguir. O governo Guterres poupou cerca
de 5 pontos percentuais nos juros da dívida pública e aproveitou isso
para aumentar a despesa pública corrente. A expansão da despesa pública
é eloquente: era de 26,7 por cento do PIB, em 1990, quando eu era
ministro, e agora, 20 anos depois, anda nos 42 por cento PIB. Não é
preciso ser economista para detectar este disparate. A euforia do euro
desencadeou um despesismo completo, traduzindo-se num engordar do
Estado, especialmente concretizado num injustificado aumento dos
funcionários públicos. Ou seja, ficámos com salários muito acima do
nosso nível de produtividade. A perda de competitividade é a
consequência imediata. Gostemos ou não, é esta a dura realidade.
Defende a diminuição de salários ou de funcionários públicos? Onde é
que o despesismo público pode ser cortado?
Para começar, defendo que se devia cortar na quantidade de organismos
públicos e empresas municipais inúteis que existem, com milhares de
administradores e funcionários. Seria uma boa machadada nos sempre
dispendiosos consumos intermédios. Quanto aos funcionários públicos
penso que os que estivessem a mais deviam ir para casa, e o Governo,
posteriormente, negociaria com os sindicatos a sua situação,
individualmente.
É dos que partilha a ideia que o Parlamento também devia ser alvo de
um emagrecimento?
Temos deputados, câmaras municipais e freguesias a mais. E, claro,
elencos governamentais excessivos. Um governo mais pequeno gasta
necessariamente menos. Quanto mais secretários de estado existirem, mais
eles têm que justificar a sua importância política, logo, é mais um
acréscimo de gastos. Isto seria um bom sinal em termos de despesa
pública.
E no que diz respeito às sempre tão tíbias ou adiadas reformas
estruturais. O que foi feito ficou aquém do esperado?
Os engenheiros civis sabem que um ; edifício aparentemente muito sólido
é o primeiro a ceder a um tremor de terra. Os edifícios que resistem são
os que mexem, abanam, mas não quebram. Esta imagem quer dizer que os
sistemas abertos ao exterior têm de ter graus de liberdade que se
acomodem aos choques externos. No tempo do escudo tínhamos instrumentos
que permitiam controlar as crises. Quando entrámos na moeda única
perdemos esse instrumento e devíamos ter começado a flexibilizar os
mercados de trabalho e emprego, apostar na educação e na qualificação,
de modo a aumentar a produtividade, etc. O desemprego galopante e o
desequilíbrio das finanças públicas são apenas duas consequências de
nada ter sido feito.
Com as lacunas que aponta avizinha-se a continuação de tempos muito
difíceis?
Seguramente temos travessia no deserto para muitos e bons anos. Há muito
tempo que alertei para isto. Cheguei, inclusive, a escrever um artigo
num jornal intitulado «o tango argentino e o fado lusitano», em que
comparei a situação das finanças públicas nacionais com o que se passou
na Argentina e que obrigou aquele país sul-americano a desligar-se do
dólar. Lembro que nesse momento também falei na eventualidade de
Portugal sair do euro e da insustentabilidade do nosso modelo. Na altura
chamaram-me pessimista e exagerado, mas infelizmente, o tempo está a
dar-me razão.
O que se pode esperar à escala global?
A nível mundial as potências emergentes vão alterar a geografia
económica do século XXI, com especial destaque para o Brasil, a Rússia,
a Índia e a China – os chamados países do BRIC. A globalização não vai
parar, mas desta feita vai deixar de ser ditada unicamente pelos
americanos, que vão ter de conviver com a concorrência. Aliás, neste
momento estamos já a assistir a um duopólio entre os Estados Unidos e a
China, que são duas nações claramente interdependentes. A União Europeia
não entra neste jogo, porque continua a ser um anão político.
Voltando a Portugal. O Estado continua a apostar nas receitas fiscais
para tentar equilibrar as finanças públicas, prosseguindo o incidir do
aumento da tributação sobre a classe média. Até quando vai ser
sustentável este garrote fiscal?
A máquina de despesismo público não dá sinais de abrandar. Os
portugueses percebem isto: aquilo que produzimos é praticamente tudo
gasto em despesa pública corrente. Fica pouco ou nada para a poupança.
Uma coisa é certa: enquanto o nosso nível de despesa não voltar a
situar-se ao nível de outros países europeus, vamos continuar a pagar
impostos superiores aos nossos parceiros. Não há milagres. O que gasta
tem que se pagar. A classe média, ou seja todos nós, que declaramos o
que ganhamos, está a ser esmagada com o garrote fiscal. Quando vir um
governo ou um autarca a aumentar a despesa pública não tenha dúvidas que
ele está a ir-lhe ao bolso. A deslocalização das actividades
empresariais é outro problema. Há muitos empresários que preferem ir
comprar a Espanha.
Partilha a opinião dos que dizem que podemos ter o azar de morrer da
cura?
Isso é uma pergunta complicada. Caso não reduzamos o défice público
estoiramos pela dívida pública. Ou seja, se o Estado entrar em «default»
o financiamento externo à economia nacional acaba.
Podemos chegar ao caso da Grécia?
Se não se fizesse a actual correcção do défice chegaríamos lá
rapidamente. Creio que em termos de finanças públicas estamos melhores
do que a Grécia, mas no domínio económico, ou seja a dívida total,
estamos claramente abaixo. Custe o que custar, temos que reduzir o
défice público. Este caminho é indiscutível. O que contesto é que se
trilha esse percurso apostando tudo na via da receita, em vez de se
atacar de frente o problema da despesa corrente.
Como banqueiro sente que esta falta de credibilidade externa do país
está a prejudicar o negócio bancário?
Os nosso bancos são vítimas do desequilíbrio macro-económico do país.
Faltando-nos poupança interna para financiar a economia, as entidades
bancárias têm de ir lá fora buscar o que nos falta do PIB para
financiamento externo. Se os mercados fecharem as portas aos bancos isso
é revelador das dificuldades de financiamento. Mas quero dizer-lhe que
alguns dos nossos banqueiros têm responsabilidades na matéria porque
nunca chamaram a atenção dos governos para o cenário que se ia
desenhando. Não esconderam até a sua admiração com as grandes obras
públicas do governo, quando eu, enquanto subscritor de um manifesto
contra os mega-investimentos, alertei em tempo útil para as megalomanias
que estavam em projecto e o desvio dessas verbas do investimento público
das tão carenciadas PME. Nenhum banqueiro levantou a voz. Ficaram todos
acomodados. Isto já para não falar no financiamento em habitação e
imobiliário que constituiu uma péssima afectação de custos. Foram
demasiados erros dos bancos que agora estamos a pagar caro.
Os casos BPN e BCP criaram instabilidade e turbulência no sector. A
banca portuguesa está de saúde?
A banca portuguesa é bem gerida e tem rácios de solvabilidade adequados,
só que está a ser prejudicada pelo estado macro-económico do país. A
questão da poupança foi determinante. Antes do euro, o que as famílias
poupavam era canalizado para os bancos em depósitos a prazo e depois era
convertido em crédito. Com o euro, o nosso aforro evaporou-se. O governo
também não ajudou ao cometer um erro colossal que foi diminuir as taxas
de juro dos certificados de aforro. Foi o princípio do fim dos hábitos
de poupança. Paralelamente, criaram-se hábitos de consumo que agora é
difícil alterar, pelo menos a bem. No futuro próximo, com o aumento dos
combustíveis e das taxas de juro, o consumo vai ajustar-se à força,
através da poupança forçada e dos impostos.
É um político com muita experiência de gabinete e no terreno. Foi
deputado e exerceu funções governamentais no governo de Cavaco Silva,
nas pastas da Energia, Indústria e Trabalho. Que explicação encontra
para os políticos serem tão impopulares?
Creio que por vezes a opinião pública é injusta e mete tudo no mesmo
saco. Os governos de Cavaco e o primeiro executivo de Guterres foram os
únicos que conseguiram reunir gente competente, recrutando muitos
ministros e secretários de Estado na sociedade civil. Eu próprio, quando
assumi funções, não tinha qualquer experiência política, foi o meu
primeiro cargo. Nem sequer era filiado no PSD. Toda a vida fui um
tecnocrata.
A lógica de recrutamento alterou-se e a qualidade foi sacrificada?
A partir do segundo governo de Guterres mudou o critério de recrutamento
e passou-se a ir buscar pessoas no seio dos próprios partidos, facto que
diminuiu a qualificação. A sociedade civil desistiu da vida política e
as juventudes partidárias ocuparam esse espaço. Muitos deles nunca
trabalharam, não estudaram e não têm qualquer experiência de vida. É
obvio que neste momento não estamos a ser governados pelos melhores.
O factor remuneração desmobiliza muitos de enveredarem por esta
carreira?
Efectivamente os políticos ganham mal. Tenho imensa consideração pelo
ministro das Finanças e creio que com a responsabilidade que tem e com
aquilo que atura é dos que está pior remunerado. É preciso voltar a
criar condições para atrair os melhores para a vida política,
dignificando esta carreira. Enquanto isso não se fizer o círculo vicioso
vai manter-se por tempo indeterminado. O que acontece é que os jovens
acham que a política é uma seca e quando terminam com sucesso os seus
cursos não vêem a hora de fugir para o estrangeiro.
Apresenta alguma solução para voltar a atrair os mais capazes para
funções tão nobres?
Eu avançava com a figura da requisição. Ia-se ao sector privado recrutar
elementos de valia para o governo. Essa pessoa; apresentava o IRS do
trabalho no sector privado nos últimos 3 anos e com base nesses
rendimentos é que era calculado o seu salário no governo. Penso que era
justo. Eu sei que, por exemplo, na pasta da Economia é dificílimo
encontrar um ministro capaz porque qualquer gestor de empresas ganha 3
ou 4 vezes mais do que no executivo.
E aqueles que são competentes, mas evitam a todo o custo enlamear a
sua impoluta carreira…
Nem todos desses interessam. Alguns são os chamados
independentes/intelectuais, que se convertem em autênticos treinadores
de bancada, dissertam sobre tudo, mas fogem da política activa como o
Diabo da cruz.
Em nome da estabilidade política, admite consensos alargados entre
partidos e mais poderes presidenciais para o inquilino do Palácio de
Belém?
O regime presidencialista é muito ambíguo e pode comportar riscos e
desentendimentos se o governo e o Presidente não forem da mesma cor.
Relembro que o líder da oposição dos governos do professor Cavaco foi
Mário Soares, o Presidente da República de então, e não propriamente
Guterres, que se limitou a apanhar a boleia. Defendo duas soluções: ou o
PR é eleito pelo Parlamento e o regime assume um carácter
parlamentarista; ou então se o PR é eleito pelo povo ele deve ser
responsável pelo executivo, obviamente sujeito ao controlo parlamentar.
Um regime com semelhanças com o francês…
O sistema francês é mais parecido com o português do que se pensa. O
chefe de Estado em França preside ao Conselho de Ministros no caso do
executivo ser da sua cor política, o que acontece agora com Sarkozy,
caso contrário ele até tem as mesmas faculdades que o seu congénere
português.
Falou anteriormente na falta de qualificação dos portugueses e nas
oportunidades desperdiçadas no período de vacas gordas. Os recentes
resultados dos exames dizem, genericamente, que Matemática, Português,
Física e Química não são o forte dos nossos jovens. Como se altera este
panorama num país que investe tanto no ensino?
É uma boa questão e que eu abordo em detalhe no meu livro. O dinheiro
não resolve tudo na vida. Tem-se gasto muito dinheiro no sector do
ensino, mas muito mal gasto. O sistema não precisa de mais dinheiro,
precisa é de rigor e competência. Urge acabar com o facilitismo
instalado. As deficiências dos jovens nas disciplinas que elencou são
dramáticas. Criou-se uma linha de pedagogos que têm sido sinistros para
a educação em Portugal e que defendem que se exigir rigor, seriedade e
avaliação, estamos a violentar e traumatizar os alunos. Olho para a
minha geração e sinceramente não vejo nenhum traumatizado. Bem pelo
contrário, vejo muitos exemplos de pessoas bem sucedidas na vida.
Atribui culpas ao rumo pedagógico do ensino?
Completamente. Ao contrário do que se diz a culpa não é só dos
ministros, mas aponto o dedo em particular aos tais pedagogos e às suas
teorias assentes em modernices. O rumo pedagógico do sistema é funesto
para o nosso país. Tudo o que se relacione com rankings e avaliações é
automaticamente rejeitado, com o argumento que é prejudicial. Assim,
promovemos uma sociedade sem incentivos. E quando assim é torna-se
difícil fazer melhor e diferente. É trágico a bitola de exigência com
que os jovens se deparam no seu percurso académico. Este é o grande
drama do ensino em Portugal e que traduz uma irresponsabilidade
incrível.
Não é paradoxal que num período de dificuldades se passar um sinal
oposto de um certo laxismo?
A escola transmite sinais de facilitismo que a vida real não tem. A vida
profissional dos jovens de hoje é muito mais dura do que foi a minha,
mas não é essa a mensagem que passa durante as aulas. Estão a ver o
filme ao contrário. O cenário lá fora é de tremenda competição e o
desemprego agravou as dificuldades.
Foi ministro do Trabalho durante executivo de Cavaco Silva. Quem são
os mais lesados por uma taxa de desemprego a roçar os 11 por cento?
Os mais prejudicados vão ser os jovens e os desempregados de longa
duração. Aos primeiros o ensino não lhes deu skills para o mercado de
trabalho. Dou-lhe um exemplo: Em Maio de 2008, quando arranquei com o
projecto do banco BIC, tinha dezenas de pedidos de “cunhas” para
empregar amigos e conhecidos licenciados em cursos que eu chamo de
ensino livresco. Realmente na altura do que eu precisava era de um
engenheiro informático, um técnico de operações ou um gestor financeiro,
que são profissões onde é difícil recrutar recursos humanos. Depois há o
caso preocupante dos desempregados de longa duração, com 40/50 anos, e
porque não se actualizaram, são autênticos analfabetos tecnológicos.
Essa gente só volta ao mercado de trabalho com salários 30 a 40%
inferiores ao que auferiam. Os sindicatos deviam pressionar o patronato
a dar formação contínua às pessoas para terem skills de empregabilidade.
O sistema falhou na qualificação de recursos humanos?
O sistema de ensino tem formado gente em demasia para determinadas áreas
e esqueceu o ensino técnico e os quadros intermédios que as PME precisam
como de pão para a boca. Quis tudo ser doutor e engenheiro e agora há
muito gente sem qualificações adequadas para o mercado de emprego.
Chegou-se à comum situação de ver licenciados em Direito e Gestão a
guiar táxis em Lisboa, em call centers ou em caixas de hipermercados. O
que eu defendo é que as universidades reciclem jovens com novos skills
que o mercado de trabalho carece, dando-lhes uma segunda oportunidade.
Depois é necessário uma nova legislação laboral que facilite a
integração desses jovens no mercado de trabalho e incentive as entidades
patronais a admiti-los.
As universidades e as empresas ainda estão de costas voltadas,
partilhando visões e interesses distintos?
Essa ligação não se estabelece por decreto-lei, mas sim gradualmente. No
caso dos jovens, como atrás referi, e volto a frisar, é preciso uma
legislação especial para os atrair, até porque se não houver emprego
aqui, e se eles tiverem qualidade, certamente vão tentar a sua sorte no
estrangeiro.
Passou por diversas universidades na condição de docente. Pensa que
em particular no chamado domínio dos cursos de lápis e papel existe
excesso de cursos?
Está-se a formar mais licenciados que depois não têm saídas
profissionais suficientes. Para ser equidistante, não queria criticar
apenas as privadas, que criaram muitos cursos de papel e lápis, mas as
responsabilidades também devem recair sobre as escolas públicas,
universidades e politécnicos, que não estão a fazer o que deviam. Estou
em crer que muitos cursos deviam fechar, por serem desnecessários e sem
qualquer utilidade social. O seu destino devia ser, pura e simplesmente,
a extinção. O que é preciso são engenheiros informáticos, técnicos de
marketing e especialistas na área financeira e contabilística, onde há
carências dramáticas. No Direito, na Gestão e na Comunicação Social já
temos de sobra.
As escolas deviam fechar a torneira a boa parte dos licenciados?
Restringir o acesso a estes cursos e dar uma segunda oportunidade aos
que já tiraram algum destas licenciaturas, reciclando-os para outra
vertente, é o caminho que eu sugiro. Depois há outro caso que rotulo de
extraordinário e que gostaria de partilhar: estão a simular-se muitos
exames ad-hoc para aumentar as admissões. Há politécnicos que estão a
fazer isso, pervertendo um esquema que até era uma boa ideia.

Nuno Dias da Silva
Fotos - Direitos Reservados
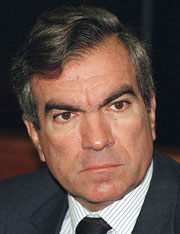
Cara da Notícia
Luís Mira Amaral nasceu em
Lisboa, a 4 de Dezembro de 1945. É engenheiro electrotécnico de
profissão e administrador de empresas. Licenciou-se em Engenharia
Electrotécnica, pelo Técnico, em 1969, e obteve o grau de mestre em
Economia, pela Faculdade de Economia da Nova, em 1982, com uma
dissertação intitulada O Consumo de Energia no Sector Automóvel em
Portugal. Concluiu o Stanford Executive Program, pela Graduate
School of Business da Universidade de Stanford. Leccionou no ensino
superior, tendo sido docente no Instituto Superior Técnico, na
Universidade Nova de Lisboa, na Universidade Católica Portuguesa e
na Universidade Lusíada de Lisboa. Actualmente é Professor
Catedrático Convidado do Departamento de Engenharia e Gestão do
Técnico e do ISEG. É Presidente do Conselho Geral do Instituto
Superior de Gestão, desde 2009. Membro dos X, XI e XII Governos
Constitucionais, ocupou os cargos de Ministro do Trabalho e
Segurança Social (1985-1987) e Ministro da Indústria e Energia
(1987-1995). Devido à sua experiência no governo, exerceu o mandato
de deputado à Assembleia da República, pelo círculo de Santarém,
apenas durante 2 meses. Foi presidente da Comissão Executiva da
Caixa Geral de Depósitos (2004) e administrou o Banco Português de
Investimento, bem como o Banco de Fomento de Angola e o Banco de
Fomento de Moçambique. Na área industrial, foi administrador não
executivo da EDP, Unicer, Cimpor, Vista Alegre, Repsol, entre
outras. Actualmente é vice-presidente da CIP e presidente da
comissão executiva do Banco BIC Português. É o autor do livro «E
depois da crise?», lançado em Julho pela Bnomics, com prefácio do
ex-ministro das Finanças, Miguel Cadilhe.

seguinte >>>
|